UMA TEORIA UNIFICADA DA EDUCAÇÃO FÍSICA
- Wecisley Ribeiro

- 8 de fev. de 2024
- 8 min de leitura
Wecisley Ribeiro
No ano de 1936, John Maynard Keynes publicou o seminal “Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda”, fundando com isso a macroeconomia. Problemas econômicos antes pensados de modo fragmentado eram doravante interpretados à luz uns dos outros, articuladamente. É que a comparação entre diferentes fenômenos da mesma natureza constitui um dos mais heurísticos procedimentos interpretativos do pensamento científico. Tal como Marx antes dele, Keynes concebeu, uma vez mais, os sistemas econômicos em termos de um metabolismo social.
Que dizer, pois, do metabolismo orgânico compreendido no corpo humano? Será produtivo analisar de modo fragmentário os fenômenos motrizes expressos na corporeidade? Noutros termos, a divisão hoje vigente entre dois cursos de graduação em Educação Física, bacharelado e licenciatura, é útil à formação profissional? Esta cisão implicou em algum aprofundamento? Ou, inversamente, é a comparação entre os diferentes campos de atuação da educadora e do educador físico que reveste sua profissão de um sentido mais geral? Há pelo menos um século e meio, o conceito de politecnia situa a diversidade das técnicas em um mesmo sistema. Porque razão seria profícuo estudar de modo descontextualizado os diferentes domínios em que se realizam as técnicas do corpo?
A resposta que segue a estas indagações aponta na direção da reunificação. A observação conjunta dos lugares sociais em que se pratica os chamados elementos da cultura corporal é que pode iluminar a compreensão geral da profissão. Esporte escolar, esporte de alto rendimento, esporte comunitário, clubes de lazer, projetos sociais esportivos, academias fitness, atividades rítmicas e expressivas, treinamento ao ar livre, quando confrontados, lançam luz recíproca entre si. Do ponto de vista metabólico ou biomecânico, não há qualquer diferença de natureza entre eles, mas apenas de intensidade. Da perspectiva social e simbólica então é absolutamente impossível traçar qualquer separação.
A exuberante diversidade que caracteriza estes elementos da cultura do corpo, bem como a variedade de campos de atuação profissional da Educação Física, dificultam a identificação, descrição e compreensão das estruturas e dinâmicas regulares que lhes articulam. A proliferação acadêmica de abordagens teóricas, por intelectualmente estimulantes que seja, também concorre para retardar o desenvolvimento de uma teoria unificada da Educação Física. As linhas que seguem, esboçam uma hipótese a este respeito.
Como não poderia deixar de ser, uma proposta teórica que descreva o prodigioso conjunto de fenômenos reunidos sob a rubrica da Educação Física precisa ser interdisciplinar. As chamadas teorias das redes podem oferecer um ponto de partida promissor. A network theory, formulada por Albert-László Barabási, por exemplo, dedica-se a discriminar os princípios gerais de associação presentes tanto em átomos e moléculas quanto entre coletivos humanos; sendo, portanto, apropriada pera pensar a coexistência das Ciências Naturais e Sociais no currículo da área que nos ocupa, bem como a miríade de modalidades motrizes que lhe caracteriza historicamente. Barabási nos ensina como pensar em conjunto sobre os mecanismos das adaptações crônicas ao exercício físico, de um lado, e a sociabilidade esportiva, de outro, passando entrementes pelas repercussões psíquicas e emocionais que costumam se seguir às práticas corporais que a humanidade consagrou.
Principiemos pelo advento do carbono na história natural. Humberto Maturana e Francisco Varela destacam o desenvolvimento da complexidade molecular que se seguiu a este evento. O atributo tetravalente do átomo de carbono permitiu não apenas a diversificação da estrutura das moléculas, mas, sobretudo, uma extraordinária sofisticação de suas funções. Nascia a química orgânica, cuja matéria inédita no planeta Terra se investiu da capacidade de reproduzir-se a si mesma. A isso os biólogos chilenos chamaram sistemas autopoiéticos, isto é, capazes de auto-organização. Testemunhamos já aqui um problema de rede, ilustrado nos primeiros estágios do contínuo representado no diagrama acima reproduzido, à esquerda; neste caso, redes de átomos variados que interagem entre si e se revestem de uma propriedade emergente sui generis – a vida.
Ora, é este atributo coletivo que, interpretado pela teoria das redes de Barabási, nos permite compreender as adaptações crônicas ao exercício físico. Tomemos um caso particular delas, a hipertrofia muscular. Dentre os atributos que caracterizam a formação de redes em qualquer escala, registra-se o que o pesquisador denomina vinculação preferencial – isto é, a tendência gravitacional apresentada por agregados de atrair novos vínculos na razão direta de sua densidade conectiva. O tecido muscular é um agregado de filamentos proteicos. O esforço contra-resistente provoca a ruptura parcial destas cadeias. Mas, para que a hipertrofia ocorra, é necessário que as estruturas conectadas se preservem em maior número que as rupturas provocadas pelo exercício. Eis porque a hipertrofia é desencadeada pelo treinamento no nível da pré-exaustão. De vez ser necessária a preservação de redes de proteínas capazes de empregar sua força atrativa da vinculação preferencial, agregando a si próprias novos filamentos contráteis a título de profilaxia a futuras micro-lesões.
As adaptações crônicas ao exercício físico são, por conseguinte, um mecanismo biológico para o sucesso do organismo em suas interações com o ambiente. Constituem meio de conexão no tecido metabólico da vida – ela mesma definida como uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida de Gaia, conforme os povos andinos denominam o organismo planetário. Para o tema que nos ocupa, vale sublinhar que o condicionamento físico é vantagem adaptativa para as vinculações operacionais entre os corpos humanos e a materialidade que os cercam.
Segue-se às valências físicas a destreza motora. Não basta ao corpo humano ser forte, veloz, ágil, flexível, potente, coordenado; importa ser também competente nos fundamentos motrizes que a coletividade consagra no decurso da história. Desde o seminal artigo sobre as técnicas do corpo de Marcel Mauss, sabe-se que o movimento humano se desenvolve coletivamente, ainda quando incorporado nos indivíduos. É a tentativa e erro que leva os grupamentos sociais a selecionarem certos padrões culturais de uso do corpo em detrimento de outros. Há nisso simultaneamente eficácia ecológica e econômica, de um lado, e eficiência simbólica, de outro. Esta última variável descarta qualquer inferência capacitista que uma leitura mal intencionada poderia fazer deste parágrafo. Uma cultura inclusiva, que se beneficia da diversidade em lugar de excluí-la, elege a variação humana como critério de eficiência cultural – variação, saliente-se que é o principal fator de inovação. Seja como for, o aprendizado das técnicas corporais coletivamente sancionadas constitui critério mesmo de inclusão social – no caso das modernas teorias da educação inclusiva, a inteligência tática de compor com a diversidade de potenciais e limitações individuais é elemento central da corporeidade eficiente.
Pode-se depreender disso uma interpretação unívoca do treinamento físico (nas múltiplas modalidades ginásticas) e do aprendizado motor, que se realiza tanto nelas quanto nas práticas esportivas e nas variadas formas de expressão corporal. Trata-se em todo caso de treinamento social com vistas à elevação das chances de sucesso interativo com o mundo ambiente. O treinamento eleva as valências físicas; os fundamentos esportivos elevam a sinergia coletiva. Os esportes assim chamados individuais compreendem os meios pelos quais os grupos se inscrevem nos corpos; os esportes coletivos, inversamente, ritualizam a cooperação dos corpos que, assim articulados, formam corporações.
Tudo o que está em jogo, por conseguinte, é a obtenção crescente da robustez dos vínculos em rede. Moléculas que se relacionam em tecidos, estes que formam órgãos, os quais se reúnem nos organismos, cuja convivência plasma tecidos sociais – sendo a Educação Física o conjunto de técnicas reunidas pelas civilizações para fortalecer a conectividade em todas as escalas desta cadeia. Enzimas que incrementam sua atuação conjunta; sistemas de captação, transporte e aproveitamento de oxigênio que ampliam sua capacidade; cadeias de proteínas contrateis que elevam sua força, velocidade, flexibilidade, potência e capacidade de sinergia; eficácia e eficiência individuais, concretas e simbólicas, que amalgamam indivíduos em sistemas complexos emergentes. Eis o objetivo, nem sempre consciente, mas filogeneticamente estabelecido, da Educação Física.
A diversidade de elementos da cultura corporal compreende apenas uma infinidade de casos particulares deste princípio geral. E, no entanto, não testemunhamos aqui uma geleia indiferenciada, senão um contínuo de práticas de sofisticação cultural e operacional crescente. O treinamento físico, como se viu, eleva a organização de moléculas, tecidos, sistemas orgânicos – fortalece forças anti-entrópicas. O treinamento motor acompanha o desenvolvimento neurofisiológico – que eleva a capacidade de comunicação entre as células neurais em uma direção específica, chamada céfalo-caudal e próximo-distal. De modo que a motricidade humana completa sua sofisticação com a coordenação motora fina, situada nas mãos e também, porque não, nos pés. Quem esteja familiarizado com a hipótese de Engels sobre a liberação das mãos, seu papel na capacidade laboral humana e o estímulo que este processo ofereceu à hominização, poderá vislumbrar a centralidade antropológica do que se segue à formação do sistema nervoso até as extremidades dos membros superiores e inferiores. Tudo se passa como se os neurônios fossem se ligando uns aos outros para coordenar a formação de uma ferramenta de conexão do ego com o alter – o corpo. E da anatomia do trabalho humano de Engels passamos ao trabalho como fator de coesão social de Durkheim – sendo a Educação Física a esfera de treinamento destas faculdades antropológicas.
Neste contínuo da cultura corporal, a ginástica e o treinamento físico melhoram a conectividade dos agregados situados no interior das fronteiras da pele. Os esportes individuais compreendem o elo de ligação com o que se passa fora destas mesmas fronteiras. Os esportes coletivos transformam estas fronteiras em elos e os organismos em sistemas táticos complexos que, se beneficiando de habilidades individuais em ecossistemas virtuosos, engendram as propriedades emergentes objetivadas nas equipes. Ambos os conjuntos de esportes compreendem sistemas de fortalecimento da coesão social das equipes, isto é, de sua capacidade de cooperação, pelo recurso à competição com outras equipes equivalentes.
Competição e cooperação são as expressões sociológicas das forças físicas de repulsão e atração. As primeiras tão somente se prestam a preservar a unidade dos sistemas discretos. Mas as forças de atração são aquelas que presidem a organização da matéria em aglomerados de escala sempre maior. Assim também a competição – ou a oposição entre os segmentos sociais, para usar a linguagem sócio-antropológica – presta-se tão somente a conferir a identidade de cada time. A identificação que se constitui na distinção é o critério de emulação. São os segmentos sociais dotados de maior valor (isto é, apreço social) que levam os demais segmentos a mimetizá-los. Seguimentos que se distinguem em uma determinada escala de observação, se reúnem na escala seguinte identificando-se com aqueles que eram rivais. É assim que atletas de uma equipe nutrem rivalidade recíproca nos treinos, mas a suspendem para cooperar contra outra equipe, nas competições. E equipes rivais se colocam contra a equipe favorita para que dois ou mais coletivos se revistam simbolicamente da força do coletivo mais forte.
É assim que a competição pode paradoxalmente favorecer a cooperação, conforme nos ensina o princípio antropológico da segmentaridade. No futebol, como na vida social mais geral, Rio de Janeiro e São Paulo se opõem – a exemplo de Pernambuco e Bahia – para se identificarem frente à Argentina. E os países da América latina eventualmente suspendem suas rivalidades diante de uma seleção europeia. Claro que isso não se dá de modo absoluto, mas a tendência geral é clara.
A competição está para a cooperação, na escala social, como o treinamento contra-resistente está para a hipertrofia, na escala orgânica. Trata-se da mesma dinâmica dialética. Assim também o Homo Ludens de Huizinga se refere à oficina de treinamento para o Homo Faber de Marx e Engels – isto é, lazer e trabalho se opõem de modo complementar para o desenvolvimento humano. A dança, por seu turno, desde suas mais remotas origens rituais, sempre desempenhou papel central no fortalecimento dos vínculos sociais; corpos que se movem em um mesmo ritmo, dotado de significação, formam corporações, repita-se.
A psicologia social consagrou três necessidades psíquicas básicas: vínculo, competência e autonomia. O esporte, como fenômeno social intermediário entre o treinamento físico e a expressão corporal, compreende um laboratório elementar de vivência destas demandas antropológicas. A cooperação forja o vínculo; a competição incrementa a competência; a técnica individual assegura a autonomia; a tática coletiva compõe um ecossistema eficiente e eficaz com tais necessidades psíquicas. A Educação Física é, em suma, a primeira e incontornável etapa do desenvolvimento integral do ser humano – físico, mental e social, conforme a tríade da OMS que virou chavão trivializado sem, por isso, se esvaziar de sua profunda raiz antropológica. A educadora e o educador físico atua nesta etapa do desenvolvimento integral humano. Ignorar isso é correr o risco de baratear a contribuição fundamental desta área profissional para o bem estar – seja na academia fitness, no esporte de alto rendimento, nas escolas, nos clubes comunitários, nos projetos sociais. Não por acaso, às três necessidades psíquicas acima discriminadas corresponde a triangulação dos valores humanos consagrados na Revolução Francesa – liberdade (autonomia), igualdade (competências simétricas entre os seres humanos), fraternidade (vínculos sociais). E tradições filosóficas da antiguidade ocidental e oriental situam em cada uma das funções corporais expressões das mais diversas faculdades mentais. A compreensão desta complexidade só pode ser construída mediante uma formação unificada, em graduação e pós graduação transdisciplinar.

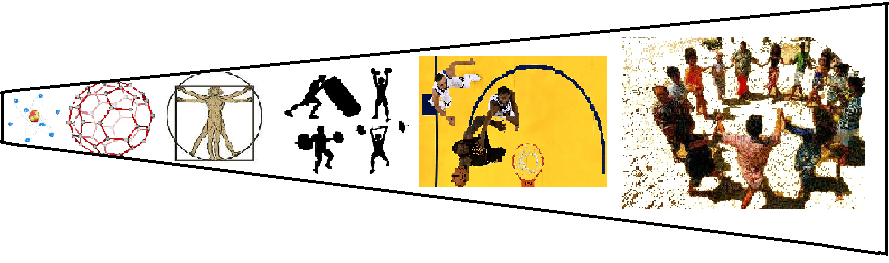



Comments